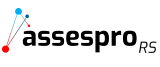No jargão da antropologia, o escritório era um ambiente onde ritmos profundamente arraigados eram transmitidos e reproduzidos sem interferências de uma geração para outra.
Há algumas semanas, moderei um jantar-debate para a bolsa de valores de Nova York com um grupo de respeitados presidentes de empresas dos Estados Unidos. Eu esperava uma discussão séria sobre inflação, cadeias de fornecimento e a guerra na Ucrânia. Mas não foi isso que ouvi.
Depois que um CEO fez uma pergunta sobre os méritos do trabalho híbrido, a conversa de repente tomou um rumo extremamente emocional. Uma votação por levantamento de mãos revelou que a maioria não gostava da política de trabalho remoto. Outra mostrou que a maioria só tinha seus funcionários no local de trabalho dois dias por semana, se tanto.
Seu dilema era dolorosamente claro. Eles deviam obrigar os funcionários a voltar ao esquema anterior com ameaças de demissão, como Elon Musk fez há pouco tempo na Tesla? Exortá-los com insistência a retornar, na linha do que fizeram chefes de Wall Street como David Solomon, do Goldman Sachs? Ou seguir o caminho de Tim Cook, da Apple, que inicialmente exigiu limites ao trabalho remoto, mas viu-se obrigado a ceder depois de protestos em massa?
O debate acirrado acabou por transformar o jantar sobre economia em algo mais parecido com uma sessão de terapia empresarial em grupo. “Esse é o maior problema individual”, admitiu o chefe de um grupo industrial com tristeza.
No mês passado aconteceu a mesma coisa, dessa vez quando moderei um debate com um consultor da EY. O objetivo era discutir questões macroeconômicas, mas assim que alguém pronunciou a expressão “trabalho remoto” a conversa foi totalmente desviada.
Mais uma vez, executivos de meia-idade afirmaram que queriam que os funcionários voltassem ao local de trabalho. Nessa ocasião também estavam presentes trabalhadores mais jovens, e eles foram igualmente veementes em dizer que queriam trabalhar sobretudo em casa. A única exceção a essa divisão entre gerações foi um presidente de meia-idade de uma empresa de software, cuja equipe sempre trabalhou remotamente.
As discussões foram intensas e guiadas por aspectos culturais tanto quanto por questões de logística e economia. Como diria um terapeuta de família, os debates mostraram que frequentemente as gerações “mantêm um diálogo de surdos”. As mesmas palavras podem significar coisas muito diferentes para cada um porque suas concepções são discordantes.
Tomemos a produtividade, por exemplo. Trabalhadores como eu, que começaram suas carreiras no fim do século XX, partiam do pressuposto de que os locais de trabalho eram mais “produtivos” do que os lares. “Ir para o trabalho” era sinônimo de “ir para o escritório” e se definia em oposição a casa, palavra que estava ligada ao tempo gasto sem trabalhar.
Para antropólogos, porém, essa separação mental é uma anomalia quando se compara com a maioria das culturas ao longo da história. A força de trabalho usuária de laptops de hoje parece ressaltar isso. Para eles, estar em um escritório pode parecer menos produtivo, já que “você acaba conversando com colegas, se distraindo, e isso impede que você faça seu trabalho”, como um jovem banqueiro disse no debate da EY.
A geração mais velha responderia que conversar nunca é uma perda de tempo; que ela estimula o trabalho em equipe e leva a encontros imprevistos que despertam a criatividade, sem falar no contato pessoal necessário para administrar pessoas. Os CEOs que eu entrevistei me disseram tudo isso repetidamente.
Mas os digitais nativos cresceram lidando com relações sociais no ciberespaço tanto quanto no mundo real. Na sua visão, as últimas nem sempre superam as primeiras; eles acreditam que “os gestores apenas precisam aprender a gerir remotamente”, segundo disse um deles.
Há um terceiro ponto de tensão crucial: os estágios. Embora no Ocidente o conceito de aprendiz esteja associado de forma mais frequente com trabalhos braçais, ele também foi importante para os profissionais de colarinho-branco do século XX. Os advogados, banqueiros, contadores ou jornalistas de hoje em geral aprenderam seu ofício a partir da observação de profissionais e da imersão em um escritório.
Isso não aconteceu só porque eles precisavam adquirir conhecimentos técnicos. A questão-chave era a transmissão da cultura. Era nos escritórios que a geração mais jovem aprendia a interagir, a como se comportar no trabalho, a administrar seu tempo e assim por diante.
No jargão da antropologia, o escritório era um ambiente onde ritmos profundamente arraigados eram transmitidos e reproduzidos sem interferências de uma geração para outra.
Os líderes empresariais de hoje dão como certo que a transferência cultural é importante, daí a existência de estágios de verão. Mas nem todo mundo tem essa visão, especialmente quando tantas outras coisas estão em constante mutação e muitos membros da geração mais velha têm dificuldades para compreender um mundo cada vez mais digital.
Pode ser que isso se mostre um conflito temporário. Outro tema que surgiu desses debates foi o de que a maioria dos executivos mais velhos acredita, sem pensar muito no assunto, que terão mais facilidade para acabar com o trabalho remoto quando o verão terminar — e se acontecer uma recessão.
Mas essa suposição também pode estar equivocada; pesquisas de grupos como o Gallup mostram de maneira consistente que a maioria das pessoas que trabalham em casa hoje espera continuar a fazê-lo na maior parte do tempo. Este é um momento fascinante para ser um antropólogo empresarial e um pesadelo para esses presidentes de empresas.
- Fonte: Gillian Tett, Financial Times (Tradução de Lilian Carmona)
- Imagem: Freepik
- 19 de julho de 2022